quarta-feira, 25 de abril de 2012
segunda-feira, 23 de abril de 2012
Senhor Santo Cristo dos Milagres
Recebi do meu muito querido amigo Daniel de Sá, um texto cujo objectivo é desfazer alguns erros que vão sendo aceites, ao longo do tempo, por deficiente pesquisa/interpretação dos factos. Eu própria repeti a história tradicional, em post anterior, e vou agora retificá-la. Os meus agradecimentos a Daniel de Sá.
Sobre o Senhor Santo Cristo
(A propósito de uma notícia publicada na imprensa)
Com o respeito devido a quem terá dado as informações constantes em notícia deste jornal (08/02/2012), sobre as próximas festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, tento, uma vez mais, chamar a atenção para os erros óbvios que a história tradicional de tão sagrada devoção contém.
Em tal notícia se repete uma evidente impossibilidade, a de que a primeira procissão tenha sido em 1700. Desse cortejo, quase espontâneo, sabe-se que foi a onze de Abril e em dia de trabalho. E, naquele ano de 1700, o dia onze de Abril foi Domingo de Páscoa.
Também é dito que a procissão se repete há mais de três séculos, sempre no quinto Domingo depois da Páscoa. No entanto, a primeira terá sido, provavelmente, na 6ª-feira que se seguiu ao Domingo de Pascoela de 1698, e a segunda no Sábado, 16 de Dezembro (e não 17, como diz o padre José Clemente no livro sobre a vida de Madre Teresa) de 1713, para implorar a Deus o fim de uma crise sísmica em São Miguel. Da terceira e das seguintes nada se sabe. Nem o ano nem o dia. Mas não terão acontecido pelo menos na primeira metade do século XVIII.
A lenda da origem da belíssima imagem continua também a sobrepor-se à razão mais elementar. A versão tradicional é a de haver sido oferta do Papa Paulo III, feita a duas jovens que teriam ido a Roma pedir a bula para fundação do mosteiro de Nossa Senhora da Conceição, em Vale de Cabaços. Eis, sintetizadas, as razões que nos dão a certeza de que tal viagem não se verificou:
Era impensável, naquele tempo, quase impossível, a ida de duas jovens dos Açores a Roma;
Gaspar Frutuoso, que conta em pormenor a criação do convento, não alude a qualquer viagem ao Vaticano, seja delas ou de alguém por elas;
O convento foi fundado durante um terrível período de peste em São Miguel, desgraça que se seguiu à subversão de Vila Franca, tendo terminado apenas em 1530, tempo durante o qual a ilha esteve isolada, só se verificando para o exterior as viagens absolutamente essenciais;
Finalmente, e razão que bastaria para negar a origem atribuída a tão sagrada imagem, o Papa Paulo III foi eleito em 13 de Outubro de 1534, depois, portanto, de construído o convento.
P.S. – É estranho que, sendo os factos que negam a história tradicional tão evidentes, a lenda se tenha mantido até agora, e sabe Deus até quando. Por um lado, têm o muito frágil suporte do livro do padre José Clemente, um bem intencionado que parece que nunca esteve sequer em São Miguel, ilha a respeito da qual estava convencido de que nevava. Por outro lado, há a autoridade muito respeitável de Urbano de Mendonça Dias. Mas o ilustre investigador a quem tanto devemos também se enganou algumas vezes, como é óbvio no caso da data da primeira procissão do Senhor Santo Cristo. Ou, por exemplo, quando escreveu que a Maia não foi elevada a vila por ter sido em grande parte destruída por um incêndio. Ora aquele notável investigador fez, neste ponto, uma grave confusão. Gaspar Frutuoso, usando a linguagem do tempo, tanto se referia a um vulcão como terramoto ou como incêndio. E é assim que explica que a Maia teria sido vila se “não fora o incêndio segundo”, ou seja, a erupção da lagoa do Fogo, em 1563, cujas cinzas destruíram searas e outras culturas, deixando a terra estéril durante alguns anos.
Daniel de Sá
quarta-feira, 18 de abril de 2012
170º Aniversário do Nascimento de Antero de Quental
TENTANDA VIA
I
Com que passo tremente se caminha
Em busca dos destinos encobertos!
Como se estão volvendo olhos incertos!
Como esta geração marcha sozinha!
Fechado, em volta, o céu! o mar, escuro!
A noite, longa! o dia, duvidoso!
Vai o giro dos céus, vem vagaroso...
Vem longe ainda a praia do futuro...
É a grande incerteza, que se estende
Sobre os destinos dum porvir, que é treva...
É o escuro terror de quem nos leva...
O futuro horrível que das almas pende!
A tristeza do tempo! o espectro mudo
Que pela mão conduz... não sei aonde!
– Quanto pode sorrir, tudo se esconde...
Quanto pode pungir, mostra-se tudo. -
Não é a grande luta, braço a braço,
No chão da Pátria, à clara luz da História...
Nem o gládio de César, nem a glória...
É um misto de pavor e de cansaço!
Não é a luta dos trezentos bravos,
Que o solo amado beijam quando caem...
Crentes que traz um Deus, e à guerra saem,
Por não dormir no leito dos escravos...
É a luta sem glória! é ser vencido
Por uma oculta, súbita fraqueza!
Um desalento, uma íntima tristeza
Que à morte leva... sem se ter vivido!
Não há aí pelejar... não há combate...
Nem há já glória no ficar prostrado –
São os tristes suspiros do Passado
Que se erguem desse chão, por toda a parte...
É a saudade, que nos rói e mina
E gasta, como à pedra a gota d'água...
Depois, a compaixão, a íntima mágoa
De olhar essa tristíssima ruína...
Tristíssimas ruínas! Entristece
E causa dó olhá-las – a vontade
Amolece nas águas da piedade,
E, em meio do lutar, treme e falece.
Cada pedra, que cai dos muros lassos
Do trémulo castelo do passado,
Deixa um peito partido, arruinado,
E um coração aberto em dois pedaços!
II
A estrada da vida anda alastrada
De folhas secas e mirradas flores...
Eu não vejo que os céus sejam maiores,
Mas a alma... essa é que eu vejo mais minguada!
Ah! via dolorosa é esta via!
Onde uma Lei terrível nos domina!
Onde é força marchar pela neblina...
Quem só tem olhos para a luz do dia!
Irmãos! irmãos! amemo-nos! é a hora...
É de noite que os tristes se procuram,
E paz e união entre si juram...
Irmãos! irmãos! amemo-nos agora!
E vós, que andais a dores mais afeitos,
Que mais sabeis à Via do Calvário
Os desvios do giro solitário,
E tendes, de sofrer, largos os peitos;
Vós, que ledes na noite... vós, profetas...
Que sois os loucos... porque andais na frente...
Que sabeis o segredo da fremente
Palavra que dá fé – ó vós, poetas!
Estendei vossas almas, como mantos
Sobre a cabeça deles... e do peito
Fazei-lhes um degrau, onde com jeito
Possam subir a ver os astros santos...
Levai-os vós à pátria-misteriosa,
Os que perdidos vão com passo incerto!
Sede vós a coluna de deserto!
Mostrai-lhes vós a Via-dolorosa!
III
Sim! que é preciso caminhar avante!
Andar! passar por cima dos soluços!
Como quem numa mina vai de bruços
Olhar apenas uma luz distante!
É preciso passar sobre ruínas,
Como quem vai pisando um chão de flores!
Ouvir as maldições, ais e clamores,
Como quem ouve músicas divinas!
Beber, em taça túrbida, o veneno,
Sem contrair o lábio palpitante!
Atravessar os círculos do Dante,
E trazer desse inferno o olhar sereno!
Ter um manto da casta luz das crenças,
Para cobrir as trevas da miséria!
Ter a vara, o condão da fada aérea,
Que em ouro torne estas areias densas!
É, quando, tem temor e sem saudade,
Puderdes, dentre o pó dessa ruína,
Erguei o olhar à cúpula divina,
Heis-de então ver a nova-claridade!
Heis-de então ver, ao descerrar do escuro,
Bem como o cumprimento de um agouro,
Abrir-se, como grandes portas de ouro,
As imensas auroras do Futuro!
Antero de Quental
[Ponta Delgada, 18 de Abril de 1842-Ponta Delgada, 11 de Setembro de 1891]
quinta-feira, 16 de fevereiro de 2012
Única entre todas, e Mulher
 “Preciso dela e do seu bem, para que não mais volte a acontecer-me isto de estar como perante a morte e ter o grande medo de morrer sozinho nesta casa. Ou para que o meu amor não envelheça de novo. Porque a gente gasta-se. A gente encosta-se a esta espécie de muros do acaso, apoia neles um ombro, um simples dedo cansado, e pensa:
“Preciso dela e do seu bem, para que não mais volte a acontecer-me isto de estar como perante a morte e ter o grande medo de morrer sozinho nesta casa. Ou para que o meu amor não envelheça de novo. Porque a gente gasta-se. A gente encosta-se a esta espécie de muros do acaso, apoia neles um ombro, um simples dedo cansado, e pensa:
quarta-feira, 8 de fevereiro de 2012
A Boneca Muda


quarta-feira, 1 de fevereiro de 2012
O Homem Suspenso


quinta-feira, 17 de novembro de 2011
Ainda e sempre ANTERO
 O certo é que em Fevereiro de 1886, respondendo a João Machado de Faria e Maia que então projectava fixar-se na Califórnia, escrevia-lhe: “Se se realizarem os teus planos californianos, talvez um dia vá lá juntar-me contigo, buscando mais largos horizontes, se não para mim, para aquelas duas crianças que fiz minhas.”
O certo é que em Fevereiro de 1886, respondendo a João Machado de Faria e Maia que então projectava fixar-se na Califórnia, escrevia-lhe: “Se se realizarem os teus planos californianos, talvez um dia vá lá juntar-me contigo, buscando mais largos horizontes, se não para mim, para aquelas duas crianças que fiz minhas.”
Mas cinco anos mais tarde, os “largos horizontes” tiveram outro nome: Ilha de São Miguel, Ponta Delgada.
 “A cada ser o seu destino”, escreveu aos vinte e dois anos em “O Sentimento da Imortalidade”, “a cada destino o seu cumprimento. Aqui, ali, agora ou logo, com esta ou aquela forma, que importa? Se esta hora, chamada vida, nos mentiu, outra virá, por certo, e a mão de luz e bem nos conduzirá no nosso verdadeiro caminho.”
“A cada ser o seu destino”, escreveu aos vinte e dois anos em “O Sentimento da Imortalidade”, “a cada destino o seu cumprimento. Aqui, ali, agora ou logo, com esta ou aquela forma, que importa? Se esta hora, chamada vida, nos mentiu, outra virá, por certo, e a mão de luz e bem nos conduzirá no nosso verdadeiro caminho.”
terça-feira, 27 de setembro de 2011
O Salto
 E viram-se no meio de seis homens de expressão dura, que os recebiam sem uma palavra, sem um gesto, e puxavam os remos no silêncio da noite.
E viram-se no meio de seis homens de expressão dura, que os recebiam sem uma palavra, sem um gesto, e puxavam os remos no silêncio da noite.
segunda-feira, 19 de setembro de 2011
O Fernades da perfumaria
 Aquela perfumaria não era bem vista por quem vivia por perto. Para além da frequência da loja ser modesta e para além da mercadoria disponível ser precária, o Fernandes pertencia ao grupo das criaturas que jamais se livram das malhas da má fama e da pouca sorte. Era visto com malevolência por muitas pessoas e mordazmente difamado por outras tantas, até mesmo lá para as bandas dos subúrbios onde morava. Conheciam-no como tendo uma incontida aversão ao clero, que nunca perdia oportunidade de denegrir, tanto na pessoa de qualquer prelado, como na generalidade da classe. Apesar disso, o pobre homem gostava de afirmar que acreditava em santos e demonstrava a sua crença, incorporando Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig van Beethoven, entre os altos dignitários da corte celestial.
Aquela perfumaria não era bem vista por quem vivia por perto. Para além da frequência da loja ser modesta e para além da mercadoria disponível ser precária, o Fernandes pertencia ao grupo das criaturas que jamais se livram das malhas da má fama e da pouca sorte. Era visto com malevolência por muitas pessoas e mordazmente difamado por outras tantas, até mesmo lá para as bandas dos subúrbios onde morava. Conheciam-no como tendo uma incontida aversão ao clero, que nunca perdia oportunidade de denegrir, tanto na pessoa de qualquer prelado, como na generalidade da classe. Apesar disso, o pobre homem gostava de afirmar que acreditava em santos e demonstrava a sua crença, incorporando Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig van Beethoven, entre os altos dignitários da corte celestial.
O objecto mais precioso que o Fernandes possuía era uma velha grafonola His Master Voice, com uma elegante campânula metálica em forma de tulipa. Esse antigo aparelho, assim como alguns livros contendo obras que ele dizia serem da melhor literatura do romantismo, fora herança de antepassados que tinham sido ricos. Porém, o cabedal desses avoengos diluíra-se no tempo até dar lugar à angustiante penúria em que o neto se via obrigado a viver.
Ouvir os concertos e as sinfonias de Mozart e Beethoven equivalia, para o Fernandes, à vivência de momentos de ascese e a um profundo prazer estético, apesar do ruidoso arranhar da agulha nas estrias das antigas gravações.
Nesses momentos, ele encontrava as únicas oportunidades de se evadir da rotina dos dias passados atrás dos quatro coloridos frascos de perfume. Dias de espera, quantas vezes em vão, pela chegada de clientes. Sentado junto à grafonola estava tranquilo, imaginava sonoridades interiores que reflectiam a emoção causada pelas obras dos grandes compositores. Isso fazia-o sentir a vibração da alma que estava viva lá no fundo de si próprio.
Experimentava, então, a leveza de quem vagueia num fluido etéreo como aquele em que o espírito de Deus terá pairado sobre as águas. Daí, dessas alturas do seu interior, via o Belo a querer atrair o Bem, a querer atrair a Justiça e, mais do que tudo, a querer atrair a Paz. Era como a contemplação do sublime, através dos humildes meios de que dispunha. Isso ajudava-o a tolerar a existência.
 A forma de pensar e de sentir do dono da perfumaria provinha de ideias absorvidas na leitura dos livros que herdou. Ele concordava com Guerra Junqueiro, quando o escritor afirma na última das suas “Prosas Dispersas”, que: “O génio do Bem e da Beleza teem a mesma essencia de infinito”(1).
A forma de pensar e de sentir do dono da perfumaria provinha de ideias absorvidas na leitura dos livros que herdou. Ele concordava com Guerra Junqueiro, quando o escritor afirma na última das suas “Prosas Dispersas”, que: “O génio do Bem e da Beleza teem a mesma essencia de infinito”(1).
Também não lhe terão sido indiferentes outras afirmações do mesmo autor, feitas ao longo dessas “Prosas”, tais como a comparação do perfil do artista com os perfis do herói e do santo: “…um grande artista ou um grande heroe é um taumaturgo. S. Francisco, Joana d’Arc e Beethoven fazem milagres”(2).
De facto, quem compôs sinfonias como as de Mozart e Beethoven, tem de estar no céu. Mais do que isso, entendia o Fernandes, seres como esses dois génios eram o bastante para justificar a existência do paraíso.
Camilo Castelo Branco, com a descrição que fez da perversa personalidade do arcediago, contribuiu bastante para os fundamentos do laicismo do Fernandes. Apesar disso, também ajudou na definição de conceitos que tenham a ver com a vida celestial: “O céo ganha-se com os voos do espírito”(3), afirmava a bela Maria Elisa, companheira da filha do arcediago. Com tal afirmação, essa personagem camiliana mostrava-se irredutível perante a obsessão da beata D. Angélica que lhe recomendava entrar para o Carmelo, por ser “uma ordem muito apertada e ganha-se o céo, com a pobreza e a paciência”(4).
Ideias pouco ortodoxas sobre questões metafísicas, como as que eram oriundas de determinava literatura ou doutrina, uma vez recreadas pelo dono da perfumaria, em nada favoreciam a imagem dele no meio social daquele tempo. Ora era alvo de insultos, ora vítima de manifestações de desprezo, mas isso não o impedia de expressar com desassombro as próprias convicções. Essa postura libertária fez com que sobre ele se fizessem as mais estranhas conjecturas.
Multiplicaram-se desconfianças fundamentadas no facto do Fernandes pensar de forma diferente do vulgo, ou apenas por ele ser dado a pensamentos. A mais perigosa de todas as suspeitas, que então caíram sobre ele, era a de ser simpatizante do bolchevismo, qual agente secreto a soldo de Moscovo…
Não tardou que o dono da perfumaria passasse a ter, confirmada por toda a cidade, a fama de ser bolchevista. Era como se não houvesse qualquer dúvida a esse respeito. Por isso, a polícia política salazarista, de imediato, se convenceu de que o pobre homem era mesmo um militante revolucionário, um perigoso inimigo do Estado. Logo entenderam que se tratava de um energúmeno que convinha ser mantido debaixo d’olho. _________________________________________________________
(1) Guerra Junqueiro, in “Prosas Dispersas”, Ed. Lello & Irmão, L.da, Porto, 1921. (Foi mantida a ortografia original).
(2) Idem.
(3) Camilo Castelo Branco, in “A Filha do Arcediago”, Ed. Parceria António Maria Pereira, Lisboa, 1905. (Foi mantida a ortografia original).
(4) Idem.
Tomaz Borba Vieira, Noites de Moscovo [O Carcereiro da Vila e outras estórias]

Desenhos do autor
sábado, 30 de julho de 2011
sábado, 23 de julho de 2011
Genuíno Madruga: O navegador solitário
 Nasci em São João da Ilha do Pico, a 9 de Dezembro de 1950, na casa da Munica, na Companhia de Cima, sítio do Palmo do Gato. Naquele tempo a vida era muito difícil. Debruçado no balcão ou sentado na porta da loja, reparava naquele mar calmo, que me fazia perder o tempo a olhar como se, lá longe, onde o Sol se escondia tivesse coisas que não podia ver. Outras vezes, parecia querer entrar pela terra! Em dias de muito vento podia mesmo lamber os lábios e gostava daquele sabor a sal, a maresia.
Nasci em São João da Ilha do Pico, a 9 de Dezembro de 1950, na casa da Munica, na Companhia de Cima, sítio do Palmo do Gato. Naquele tempo a vida era muito difícil. Debruçado no balcão ou sentado na porta da loja, reparava naquele mar calmo, que me fazia perder o tempo a olhar como se, lá longe, onde o Sol se escondia tivesse coisas que não podia ver. Outras vezes, parecia querer entrar pela terra! Em dias de muito vento podia mesmo lamber os lábios e gostava daquele sabor a sal, a maresia.
 A Festa da Senhora de Lourdes, padroeira dos baleeiros e dos homens do mar, que ano após ano se realiza na Vila baleeira das Lajes do Pico e noutras localidades dos Açores, foi o dia escolhido para a partida da segunda viagem do “Hemingway” à volta do mundo. […]
Em terra estouraram os foguetes e da rampa junto à fábrica arriaram-se os botes. No mar as lanchas baleeiras, os botes, embarcações de recreio e de pesca, enquanto que no meu veleiro eram içadas as velas e a popa virada para terra. Aos poucos, milha após milha, as pedras negras se confundiam com o mar e o “Hemingway” com o seu único tripulante, transportando a sua carga preciosa de beijos, abraços, afectos, carinhos, saudades e de tantas coisas indescritíveis, seguia, embalado por aquele mar, meu conhecido, que me havia de acompanhar pelos quatro cantos do mundo.
A Festa da Senhora de Lourdes, padroeira dos baleeiros e dos homens do mar, que ano após ano se realiza na Vila baleeira das Lajes do Pico e noutras localidades dos Açores, foi o dia escolhido para a partida da segunda viagem do “Hemingway” à volta do mundo. […]
Em terra estouraram os foguetes e da rampa junto à fábrica arriaram-se os botes. No mar as lanchas baleeiras, os botes, embarcações de recreio e de pesca, enquanto que no meu veleiro eram içadas as velas e a popa virada para terra. Aos poucos, milha após milha, as pedras negras se confundiam com o mar e o “Hemingway” com o seu único tripulante, transportando a sua carga preciosa de beijos, abraços, afectos, carinhos, saudades e de tantas coisas indescritíveis, seguia, embalado por aquele mar, meu conhecido, que me havia de acompanhar pelos quatro cantos do mundo.
 A 3 de Setembro parti de Bali tendo como porto de destino Port Mathurin, na ilha Rodrigues, no Arquipélago das Maurícias. No dia seguinte, navegando com vento ESSE, 15 nós, a 70 milhas de terra, avistei uma embarcação de boca aberta, que se encontrava pescando, com dois tripulantes. Não consegui perceber que género de pescaria estavam fazendo. Com excepção do dia 6 de Setembro, no qual apanhei um bonito pequeno, os outros dias seguiram-se sem pescarias. A temperatura da água por volta dos 26 e do ar 27 graus.
O vento em quase todo o percurso esteve entre os 5 e os 25 nós, de E ou ESE. Passaram frentes, acompanhadas de chuva e vento bastante fresco. No dia 15 a Rádio Exterior de Espanha informava que as frotas de pesca Francesa e Espanhola se encontravam nas Seychelles aguardando protecção em relação ao cada vez maior número de piratas que actuavam no Índico, nas proximidades ou em zonas bastante desviadas da costa da Somália. Já haviam sido referenciadas cerca de 45 embarcações com piratas, actuando em águas internacionais, à volta das 400 milhas de terra.
A 16 de Setembro o vento, soprando SE com 25 nós, originou mar grosso. O fogão saiu fora dos eixos, tive de aguardar por melhoria do estado do tempo, o que só aconteceu no dia seguinte, para repô-lo novamente no lugar. Passados vários dias comendo conservas ou peixe salgado, ao final da tarde do dia 19 cozi batatas e aguardei pacientemente, sempre olhando para as minhas linhas, que vindo de corrico havia dias que nada apanhavam, na esperança de que um peixe ficasse preso, mesmo que pequeno. Se nada pegasse, teria de abrir novamente uma lata de conservas. Mas, como bem sei, na pesca há sempre que aguardar. Para meu regalo pegou um bonito grande, que puxei para bordo, com todo o cuidado, não fosse ele escapar. Com a ajuda de um peixeiro, meti dentro o meu jantar daquele e de mais dias. Efectivamente, ao contrário da primeira viagem, o peixe não abundava.
Fiz filetes, que cozinhei na altura, preparei uma vinha de alhos para outros, destinados ao dia seguinte, e o restante foi devidamente salgado. Nos tempos de abundância (anterior viagem) também usei este método da salga do peixe, embora sem grandes preocupações, devido às boas pescarias que quase todos os dias fazia.
A 3 de Setembro parti de Bali tendo como porto de destino Port Mathurin, na ilha Rodrigues, no Arquipélago das Maurícias. No dia seguinte, navegando com vento ESSE, 15 nós, a 70 milhas de terra, avistei uma embarcação de boca aberta, que se encontrava pescando, com dois tripulantes. Não consegui perceber que género de pescaria estavam fazendo. Com excepção do dia 6 de Setembro, no qual apanhei um bonito pequeno, os outros dias seguiram-se sem pescarias. A temperatura da água por volta dos 26 e do ar 27 graus.
O vento em quase todo o percurso esteve entre os 5 e os 25 nós, de E ou ESE. Passaram frentes, acompanhadas de chuva e vento bastante fresco. No dia 15 a Rádio Exterior de Espanha informava que as frotas de pesca Francesa e Espanhola se encontravam nas Seychelles aguardando protecção em relação ao cada vez maior número de piratas que actuavam no Índico, nas proximidades ou em zonas bastante desviadas da costa da Somália. Já haviam sido referenciadas cerca de 45 embarcações com piratas, actuando em águas internacionais, à volta das 400 milhas de terra.
A 16 de Setembro o vento, soprando SE com 25 nós, originou mar grosso. O fogão saiu fora dos eixos, tive de aguardar por melhoria do estado do tempo, o que só aconteceu no dia seguinte, para repô-lo novamente no lugar. Passados vários dias comendo conservas ou peixe salgado, ao final da tarde do dia 19 cozi batatas e aguardei pacientemente, sempre olhando para as minhas linhas, que vindo de corrico havia dias que nada apanhavam, na esperança de que um peixe ficasse preso, mesmo que pequeno. Se nada pegasse, teria de abrir novamente uma lata de conservas. Mas, como bem sei, na pesca há sempre que aguardar. Para meu regalo pegou um bonito grande, que puxei para bordo, com todo o cuidado, não fosse ele escapar. Com a ajuda de um peixeiro, meti dentro o meu jantar daquele e de mais dias. Efectivamente, ao contrário da primeira viagem, o peixe não abundava.
Fiz filetes, que cozinhei na altura, preparei uma vinha de alhos para outros, destinados ao dia seguinte, e o restante foi devidamente salgado. Nos tempos de abundância (anterior viagem) também usei este método da salga do peixe, embora sem grandes preocupações, devido às boas pescarias que quase todos os dias fazia.
 Comecei ainda agora a ler o livro de Genuíno Madruga. Recebi-o hoje pelo correio. Extraí estas passagens um pouco aleatoriamente mas, pelo que já li e vi, aconselho-o vivamente. Não faltam fotografias lindas, lugares exóticos e histórias das suas gentes, aventura. E, sobretudo, não falta coragem, força e amor ao mar e às ilhas por parte deste picoense ilustre, primeiro velejador solitário português a realizar viagens de circum-navegação e de que todos, com toda a certeza, nos orgulhamos muito.
É fácil adquirir o livro. Aqui ficam os contactos da Editora. É uma obra que vale a pena ter.
Comecei ainda agora a ler o livro de Genuíno Madruga. Recebi-o hoje pelo correio. Extraí estas passagens um pouco aleatoriamente mas, pelo que já li e vi, aconselho-o vivamente. Não faltam fotografias lindas, lugares exóticos e histórias das suas gentes, aventura. E, sobretudo, não falta coragem, força e amor ao mar e às ilhas por parte deste picoense ilustre, primeiro velejador solitário português a realizar viagens de circum-navegação e de que todos, com toda a certeza, nos orgulhamos muito.
É fácil adquirir o livro. Aqui ficam os contactos da Editora. É uma obra que vale a pena ter.domingo, 19 de junho de 2011
O vidrinho de lágrima semi-inventada...
 Parto amanhã de manhã para Lisboa. Sábado que será de sol. Voo semidirecto: Pico, Lajes, Lisboa. Sempre que me vou de abalada, sinto uma ponta de tristeza e de saudade do local onde aqueci lugar durante algum tempo. A mala e a pasta do computador já se encontram no chão do alpendre da casa virada ao mar. Contemplo a Ilha de São Jorge: estende-se ao longo do meu olhar numa extensão de cerca de oitenta quilómetros. Hoje, pintou-se de azul arroxeado. Daqui a pouco, já troca de pintura, mas não é troca-tintas! Nunca usa a mesma durante muito tempo. Grande vaidosa, a Ilha em frente de minha casa! O Expresso que liga os portos da Horta, de São Roque e São Jorge, não navega: azula-se de tal maneira que já vai a meio do canal, o de Vitorino Nemésio, rumo à Vila das Velas. Enxergo o casario com nitidez e, à noite, até vislumbro a claridade dos faróis dos automóveis circulando nas estradas. O mar, um espelho. Estanhado. Bom Tempo no Canal! Ainda é muito cedo! Sou ardido no tocante a horários! A boleia só chegará daqui a uma hora, mas gosto de sentir-me em mangas de camisa dentro do tempo que me faço sobejar. Vou ainda percorrer a casa, palmo a palmo. Retiro algum prazer mórbido ao despedir-me das coisas, devagar. Das pessoas, é mais fácil! Entro de novo, subo as escadas que me levam ao sótão, o meu santuário da escrita e dos livros. Acaricio a lombada de um ou outro, endireito algum mais indisciplinado, sem vocação militar para a formatura rígida, deixo cair os olhos nas estantes de criptoméria, aliso a secretária já esvaziada do computador portátil, lanço um lento olhar em redor, na esperança de que ele fique, ali, preenchendo a ausência prestes a desabotoar-se e me dê as boas-vindas quando de novo eu chegar... Como existirão os livros sem mim, neste sótão de silêncio? Desço de novo as escadas, paro uns momentos em cada degrau, capto a sala de cima, e enterneço-me com o vidrinho de lágrima semi-inventada que me embacia os olhos.
**********************************************************************************
Cristóvão de Aguiar/Francisco de Aguiar, Catarse
Parto amanhã de manhã para Lisboa. Sábado que será de sol. Voo semidirecto: Pico, Lajes, Lisboa. Sempre que me vou de abalada, sinto uma ponta de tristeza e de saudade do local onde aqueci lugar durante algum tempo. A mala e a pasta do computador já se encontram no chão do alpendre da casa virada ao mar. Contemplo a Ilha de São Jorge: estende-se ao longo do meu olhar numa extensão de cerca de oitenta quilómetros. Hoje, pintou-se de azul arroxeado. Daqui a pouco, já troca de pintura, mas não é troca-tintas! Nunca usa a mesma durante muito tempo. Grande vaidosa, a Ilha em frente de minha casa! O Expresso que liga os portos da Horta, de São Roque e São Jorge, não navega: azula-se de tal maneira que já vai a meio do canal, o de Vitorino Nemésio, rumo à Vila das Velas. Enxergo o casario com nitidez e, à noite, até vislumbro a claridade dos faróis dos automóveis circulando nas estradas. O mar, um espelho. Estanhado. Bom Tempo no Canal! Ainda é muito cedo! Sou ardido no tocante a horários! A boleia só chegará daqui a uma hora, mas gosto de sentir-me em mangas de camisa dentro do tempo que me faço sobejar. Vou ainda percorrer a casa, palmo a palmo. Retiro algum prazer mórbido ao despedir-me das coisas, devagar. Das pessoas, é mais fácil! Entro de novo, subo as escadas que me levam ao sótão, o meu santuário da escrita e dos livros. Acaricio a lombada de um ou outro, endireito algum mais indisciplinado, sem vocação militar para a formatura rígida, deixo cair os olhos nas estantes de criptoméria, aliso a secretária já esvaziada do computador portátil, lanço um lento olhar em redor, na esperança de que ele fique, ali, preenchendo a ausência prestes a desabotoar-se e me dê as boas-vindas quando de novo eu chegar... Como existirão os livros sem mim, neste sótão de silêncio? Desço de novo as escadas, paro uns momentos em cada degrau, capto a sala de cima, e enterneço-me com o vidrinho de lágrima semi-inventada que me embacia os olhos.
**********************************************************************************
Cristóvão de Aguiar/Francisco de Aguiar, Catarse
domingo, 12 de junho de 2011
Roberto Ivens
 Roberto Ivens nasceu a 12 de Junho de 1850, na freguesia de São Pedro, Ponta Delgada, filho de Margarida Júlia de Medeiros Castelo Branco, de apenas 18 anos de idade, oriunda de uma família de modestos recursos, e de Robert Breakspeare Ivens, de 30 anos, filho do abastado comerciante inglês William Ivens, residente em Ponta Delgada desde 1800.
Não sendo os pais casados, e dadas as diferenças sociais e convenções da época, fruto de amores furtivos e proibidos (mas tolerados), o nascimento deu-se numa casa alugada onde o pai havia instalado a amante, que entretanto fora amaldiçoada, deserdada e expulsa de casa pelo pai. A instâncias da mãe, o recém-nascido foi baptizado, às escondidas, como filho de pai incógnito, na igreja da Fajã de Cima. Entregue à parteira do lugar, Ana de Jesus, foi por esta levado à igreja sendo baptizado pelo cura e tendo como padrinho o irmão do vigário.
A criança foi entretanto criada na companhia da mãe e da tia, Ana Matilde. Com o aparecimento de uma nova gravidez, Roberto Breakspeare Ivens providencia uma empregada e uma casa na Rua Nova do Passal, Ponta Delgada. Por influência do Dr. Paulo de Medeiros, reconhece a paternidade sobre o pequeno Roberto, mesmo antes do nascimento do segundo filho, Duarte Ivens. Com apenas três anos de idade, perde a mãe vítima da tuberculose.
Permanecendo em Ponta Delgada, beneficiando do estatuto social que o reconhecimento por parte da família Ivens lhe conferiu, frequenta a Escola Primária do Convento da Graça, onde desde logo foi apelidado de "Roberto do Diabo" dadas as travessuras em que se envolvia.
O pai, que entretanto casara, fixou-se em Faro, no Algarve, para onde leva os filhos em Agosto de 1858.
Em 1861 Roberto Ivens é inscrito na Escola da Marinha, em Lisboa, ali fazendo os estudos que o conduziram a uma carreira como oficial de marinha. Foi sempre um estudante inteligente e aplicado, mas igualmente brincalhão.
Concluiu o curso de Marinha em 1870, com apenas 20 anos, com as mais elevadas classificações. Inicia a sua carreira de oficial da Marinha, fazendo várias viagens, mas por motivos de saúde, abandona o mar, passando a dedicar-se à cartografia na Sociedade de Geografia de Lisboa e na execução de trabalhos relacionados com África, sobretudo Angola, no Ministério da Marinha e Ultramar.
Quando tomou conhecimento do plano do Governo para a exploração científica no interior africano, destinado a explorar os territórios entre as províncias de Angola e Moçambique e, especialmente, a efectuar um reconhecimento geográfico das bacias hidrográficas do Zaire e do Zambeze, foi imediatamente oferecer-se para nela tomar parte. Como a decisão demorasse, pediu para ir servir na estação naval de Angola. Aproveitou esta estadia para fazer vários reconhecimentos, principalmente no rio Zaire, levantando uma planta do rio entre Borud e Nóqui.
Por Decreto de 11 de Maio de 1877 foi nomeado para dirigir a expedição aos territórios compreendidos entre as províncias de Angola e Moçambique e estudar as relações entre as bacias hidrográficas do Zaire e do Zambeze.
De 1877 a 1880, ocupou-se com Hermenegildo Capelo e, em parte, com Serpa Pinto, na exploração científica de Benguela às Terras de Iaca. No regresso, recebe a Comenda da Ordem Militar de Santiago e é nomeado a 19 de Agosto de 1880 vogal da Comissão Central de Geografia. Por Decreto de 19 de Janeiro de 1882, foram-lhe concedidas honras de oficial às ordens e a 28 de Julho foi nomeado para proceder à organização da carta geográfica de Angola.
Roberto Ivens nasceu a 12 de Junho de 1850, na freguesia de São Pedro, Ponta Delgada, filho de Margarida Júlia de Medeiros Castelo Branco, de apenas 18 anos de idade, oriunda de uma família de modestos recursos, e de Robert Breakspeare Ivens, de 30 anos, filho do abastado comerciante inglês William Ivens, residente em Ponta Delgada desde 1800.
Não sendo os pais casados, e dadas as diferenças sociais e convenções da época, fruto de amores furtivos e proibidos (mas tolerados), o nascimento deu-se numa casa alugada onde o pai havia instalado a amante, que entretanto fora amaldiçoada, deserdada e expulsa de casa pelo pai. A instâncias da mãe, o recém-nascido foi baptizado, às escondidas, como filho de pai incógnito, na igreja da Fajã de Cima. Entregue à parteira do lugar, Ana de Jesus, foi por esta levado à igreja sendo baptizado pelo cura e tendo como padrinho o irmão do vigário.
A criança foi entretanto criada na companhia da mãe e da tia, Ana Matilde. Com o aparecimento de uma nova gravidez, Roberto Breakspeare Ivens providencia uma empregada e uma casa na Rua Nova do Passal, Ponta Delgada. Por influência do Dr. Paulo de Medeiros, reconhece a paternidade sobre o pequeno Roberto, mesmo antes do nascimento do segundo filho, Duarte Ivens. Com apenas três anos de idade, perde a mãe vítima da tuberculose.
Permanecendo em Ponta Delgada, beneficiando do estatuto social que o reconhecimento por parte da família Ivens lhe conferiu, frequenta a Escola Primária do Convento da Graça, onde desde logo foi apelidado de "Roberto do Diabo" dadas as travessuras em que se envolvia.
O pai, que entretanto casara, fixou-se em Faro, no Algarve, para onde leva os filhos em Agosto de 1858.
Em 1861 Roberto Ivens é inscrito na Escola da Marinha, em Lisboa, ali fazendo os estudos que o conduziram a uma carreira como oficial de marinha. Foi sempre um estudante inteligente e aplicado, mas igualmente brincalhão.
Concluiu o curso de Marinha em 1870, com apenas 20 anos, com as mais elevadas classificações. Inicia a sua carreira de oficial da Marinha, fazendo várias viagens, mas por motivos de saúde, abandona o mar, passando a dedicar-se à cartografia na Sociedade de Geografia de Lisboa e na execução de trabalhos relacionados com África, sobretudo Angola, no Ministério da Marinha e Ultramar.
Quando tomou conhecimento do plano do Governo para a exploração científica no interior africano, destinado a explorar os territórios entre as províncias de Angola e Moçambique e, especialmente, a efectuar um reconhecimento geográfico das bacias hidrográficas do Zaire e do Zambeze, foi imediatamente oferecer-se para nela tomar parte. Como a decisão demorasse, pediu para ir servir na estação naval de Angola. Aproveitou esta estadia para fazer vários reconhecimentos, principalmente no rio Zaire, levantando uma planta do rio entre Borud e Nóqui.
Por Decreto de 11 de Maio de 1877 foi nomeado para dirigir a expedição aos territórios compreendidos entre as províncias de Angola e Moçambique e estudar as relações entre as bacias hidrográficas do Zaire e do Zambeze.
De 1877 a 1880, ocupou-se com Hermenegildo Capelo e, em parte, com Serpa Pinto, na exploração científica de Benguela às Terras de Iaca. No regresso, recebe a Comenda da Ordem Militar de Santiago e é nomeado a 19 de Agosto de 1880 vogal da Comissão Central de Geografia. Por Decreto de 19 de Janeiro de 1882, foram-lhe concedidas honras de oficial às ordens e a 28 de Julho foi nomeado para proceder à organização da carta geográfica de Angola.
 Roberto Ivens e Hermenegildo Capelo no Cabo da Boa Esperança: 1886
**********************************************************************************
Em 19 de Abril de 1883, é nomeado vogal da comissão encarregada de elaborar e publicar uma colecção de cartas das possessões ultramarinas portuguesas. Por portaria de 28 de Novembro do mesmo ano foi encarregado de proceder a reconhecimentos e explorações necessários para se reunirem os elementos e informações indispensáveis a fim de se reconstruir a carta geográfica de Angola.
Face às mais que previsíveis decisões da Conferência de Berlim era preciso demonstrar a presença portuguesa no interior da África austral, como forma de sustentar as reivindicações constantes do mapa cor-de-rosa, entretanto produzido. Para realizar tão grande façanha, são nomeados Hermenegildo Capelo e Roberto Ivens.
Feitos os preparativos, a grande viagem inicia-se em Porto Pinda, no sul de Angola, em Março de 1884. Após uma incursão de Roberto Ivens pelo rio Curoca, a comitiva reúne-se, de novo, desta vez em Moçâmedes para a partida definitiva a 29 de Abril daquele ano.
Foram 14 meses de inferno no interior africano, durante os quais, a fome, o frio, a natureza agreste, os animais selvagens, a mosca tsé-tsé, puseram em permanente risco a vida dos exploradores e comitiva. As constantes deserções e a doença e morte de carregadores aumentavam o perigo e a incerteza. Só de uma vez, andaram perdidos 42 dias, por terrenos pantanosos, sob condições meteorológicas difíceis, sem caminhos e sem gente por perto. Foram dados como mortos ou perdidos, pois durante quase um ano não houve notícias deles.
Ao longo de toda a viagem, Roberto Ivens escreve, desenha, faz croquis, levanta cartas; Hermenegildo Capelo recolhe espécimes de plantas, rochas e animais.
A 21 de Junho 1885, a expedição chega finalmente a Quelimane, em Moçambique, cumpridos todos os objectivos definidos pelo governo.
Na viagem foram percorridas 4500 milhas geográficas (mais de 8300 km), 1.500 das quais por regiões ignotas, tendo-se feito numerosas determinações geográficas e observações magnéticas e meteorológicas.
Estas expedições, para além de terem permitido fazer várias determinações geográficas, colheitas de fósseis, minerais e de várias colecções de história natural, tinham como objectivo essencial afirmar a presença portuguesa nos territórios explorados e reivindicar os respectivos direitos de soberania, já que os mesmos se incluíam no famoso mapa cor-de-rosa que delimitava as pretensões portuguesas na África meridional. (1)
Roberto Ivens e Hermenegildo Capelo no Cabo da Boa Esperança: 1886
**********************************************************************************
Em 19 de Abril de 1883, é nomeado vogal da comissão encarregada de elaborar e publicar uma colecção de cartas das possessões ultramarinas portuguesas. Por portaria de 28 de Novembro do mesmo ano foi encarregado de proceder a reconhecimentos e explorações necessários para se reunirem os elementos e informações indispensáveis a fim de se reconstruir a carta geográfica de Angola.
Face às mais que previsíveis decisões da Conferência de Berlim era preciso demonstrar a presença portuguesa no interior da África austral, como forma de sustentar as reivindicações constantes do mapa cor-de-rosa, entretanto produzido. Para realizar tão grande façanha, são nomeados Hermenegildo Capelo e Roberto Ivens.
Feitos os preparativos, a grande viagem inicia-se em Porto Pinda, no sul de Angola, em Março de 1884. Após uma incursão de Roberto Ivens pelo rio Curoca, a comitiva reúne-se, de novo, desta vez em Moçâmedes para a partida definitiva a 29 de Abril daquele ano.
Foram 14 meses de inferno no interior africano, durante os quais, a fome, o frio, a natureza agreste, os animais selvagens, a mosca tsé-tsé, puseram em permanente risco a vida dos exploradores e comitiva. As constantes deserções e a doença e morte de carregadores aumentavam o perigo e a incerteza. Só de uma vez, andaram perdidos 42 dias, por terrenos pantanosos, sob condições meteorológicas difíceis, sem caminhos e sem gente por perto. Foram dados como mortos ou perdidos, pois durante quase um ano não houve notícias deles.
Ao longo de toda a viagem, Roberto Ivens escreve, desenha, faz croquis, levanta cartas; Hermenegildo Capelo recolhe espécimes de plantas, rochas e animais.
A 21 de Junho 1885, a expedição chega finalmente a Quelimane, em Moçambique, cumpridos todos os objectivos definidos pelo governo.
Na viagem foram percorridas 4500 milhas geográficas (mais de 8300 km), 1.500 das quais por regiões ignotas, tendo-se feito numerosas determinações geográficas e observações magnéticas e meteorológicas.
Estas expedições, para além de terem permitido fazer várias determinações geográficas, colheitas de fósseis, minerais e de várias colecções de história natural, tinham como objectivo essencial afirmar a presença portuguesa nos territórios explorados e reivindicar os respectivos direitos de soberania, já que os mesmos se incluíam no famoso mapa cor-de-rosa que delimitava as pretensões portuguesas na África meridional. (1)
 Finda a viagem de exploração, Roberto Ivens e Hermenegildo Capelo foram recebidos como heróis em Lisboa, a 16 de Setembro de 1885. O próprio rei D. Luís se dirigiu ao cais para os receber em pessoa e os condecorar à chegada. O rio Tejo regurgitava de embarcações. Nunca se havia visto tamanho cortejo fluvial. Acompanhados pelo rei foram conduzidos ao Arsenal da Marinha para as boas vindas, com Lisboa a vestir-se das suas melhores galas para os receber. Foram oito dias de festas constantes, com colchas nas varandas, iluminação, fogos de artifício, recepções, almoços, jantares e discursos sobre a heróica viagem.
Mais tarde, o Porto não quis ficar atrás, excedendo-se em manifestações de regozijo e recepções. E no estrangeiro, Madrid esmerou-se em festas, conferências, recepções e condecorações; em Paris é-lhes conferida a Grande Medalha de Honra.
Em Ponta Delgada, por iniciativa de Ernesto do Canto sucederam-se as manifestações em honra do herói. O dia 6 de Dezembro de 1885 foi o escolhido para as solenidades. As ruas da cidade encheram-se de gente de todas as condições sociais. Cada profissão, cada instituição se incorporou no cortejo cívico com os seus pendões. Não faltaram as bandas de música e os discursos. Expressamente para esse dia foi composto o número único do jornal Ivens e Capelo e foi executado um Hino a Roberto Ivens, com letra de Manuel José Duarte e música de Quintiliano Furtado.
Roberto Ivens faleceu no Dafundo (Oeiras), em 28 de Janeiro de 1898, deixando viúva e três filhos. O enterro, a 29 de Janeiro, foi uma grande manifestação de pesar nacional. A urna de mogno estava coberta com a bandeira nacional.
Finda a viagem de exploração, Roberto Ivens e Hermenegildo Capelo foram recebidos como heróis em Lisboa, a 16 de Setembro de 1885. O próprio rei D. Luís se dirigiu ao cais para os receber em pessoa e os condecorar à chegada. O rio Tejo regurgitava de embarcações. Nunca se havia visto tamanho cortejo fluvial. Acompanhados pelo rei foram conduzidos ao Arsenal da Marinha para as boas vindas, com Lisboa a vestir-se das suas melhores galas para os receber. Foram oito dias de festas constantes, com colchas nas varandas, iluminação, fogos de artifício, recepções, almoços, jantares e discursos sobre a heróica viagem.
Mais tarde, o Porto não quis ficar atrás, excedendo-se em manifestações de regozijo e recepções. E no estrangeiro, Madrid esmerou-se em festas, conferências, recepções e condecorações; em Paris é-lhes conferida a Grande Medalha de Honra.
Em Ponta Delgada, por iniciativa de Ernesto do Canto sucederam-se as manifestações em honra do herói. O dia 6 de Dezembro de 1885 foi o escolhido para as solenidades. As ruas da cidade encheram-se de gente de todas as condições sociais. Cada profissão, cada instituição se incorporou no cortejo cívico com os seus pendões. Não faltaram as bandas de música e os discursos. Expressamente para esse dia foi composto o número único do jornal Ivens e Capelo e foi executado um Hino a Roberto Ivens, com letra de Manuel José Duarte e música de Quintiliano Furtado.
Roberto Ivens faleceu no Dafundo (Oeiras), em 28 de Janeiro de 1898, deixando viúva e três filhos. O enterro, a 29 de Janeiro, foi uma grande manifestação de pesar nacional. A urna de mogno estava coberta com a bandeira nacional.
sábado, 21 de maio de 2011
Luís de Figueiredo de Lemos
 Luís de Figueiredo de Lemos nasceu em Vila do Porto (Ilha de Santa Maria), a 21 de Agosto de 1544. Era filho de Miguel de Figueiredo de Lemos e de D. Inês Nunes Velho.
Luís de Figueiredo de Lemos nasceu em Vila do Porto (Ilha de Santa Maria), a 21 de Agosto de 1544. Era filho de Miguel de Figueiredo de Lemos e de D. Inês Nunes Velho.
O pai, um dos povoadores dos Açores e também o primeiro desta família na ilha de Santa Maria, foi procurador de D. Luís Coutinho (3.º comendador daquela ilha e que morreu na Batalha de Alcácer Quibir), Procurador do Número e Juiz dos Órfãos.
A mãe era da mais antiga raiz mariense, profundamente ligada aos primeiros povoadores, visto que provinda dos Velhos.
Gaspar Frutuoso descreve-o assim:
“Os primeiros anos de sua tenra idade foram regulados de uma natural modéstia e discrição. E no tempo em que começam os outros quase conhecer os pais, deixados por ele os risos da inconstante meninice, entrou no rigor do mestre e da escola; com pronta viveza discorrendo a veracidade das letras, em poucos anos aprendeu a ler, passando a maravilhosa invenção do escrever, poderoso e único remédio contra a miserável perda da memória dos mal lembrados homens. De doze anos começou dar obra aos ásperos preceitos da Gramática, na doutrina de um entendido mestre, que com muito louvor aos filhos dos nobres lia as humanas letras, adquirindo quanto dele se podia alcançar, entender, falar e escrever latim.
Antepondo seu pai as certas esperanças que mostrava ao tenro e vivo amor com que o queria, o mandou a Lisboa ao Colégio de Santo Antão, a estudar Retórica e Grego, ornamento e glória da latina língua. Desembarcado nos braços de seus parentes, nos mimos que todos lhe faziam, espantados em tão pequena idade parecerem tantas mostras do que prometia, entrou nas classes, e com incansável zelo da eloquência, passou em poucos meses os mais antigos e graves delas. E no exercício de compor verso e prosa, excedendo com muito louvor a todos, ganhou os melhores lugares e os prémios. Acabados dois anos, julgado no parecer dos padres meretíssimo de qualquer ciência, mandou seu pai que fosse a Coimbra estudar Cânones, presságio da dignidade que havia depois ter. Não bastaram danadas ocasiões daquela imensa cidade de Lisboa a profanar o casto recolhimento de seu peito, antes, avisado com as mostras da perdição que via, realçou em maior altura de virtude. E metido no meio de tantos males, vivia solitário com só Deus e com os livros.”
Recebeu as primeiras ordens em Portalegre, continuou a vida religiosa em Lisboa. Foi, depois, nomeado vigário da freguesia de São Pedro, em Ponta Delgada, e, ao mesmo tempo, ouvidor eclesiástico em toda a ilha de São Miguel.
Foi, depois, nomeado deão do Cabido da Sé de Angra e, nessa qualidade, incumbido pelo bispo de organizar o processo da vida e das virtudes da venerável Margarida de Chaves. Passou, com o bispo D. Pedro de Castilho, à ilha de São Miguel, como visitador, acabando por fazer o mesmo serviço na ilha de Santa Maria. Esteve, depois, impedido de voltar à Terceira onde D. Pedro de Castilho, devido às tendências políticas a favor de Filipe II de Espanha, não seria bem recebido.
Quando o bispo se viu na necessidade de regressar ao reino na armada de Álvaro de Bazán, que finalmente submetera a Terceira à obediência de Filipe II, foi deixado pelo prelado como governador do bispado de Angra.
Em Março de 1585, Filipe I de Portugal apresentou-o para bispo do Funchal. Foi sagrado em Lisboa, com 41 anos, no Mosteiro da Trindade.
Partiu de Lisboa no dia 27 de Julho de 1586, chegou à ilha da Madeira no dia 4 de Agosto de 1586, tendo passado algum perigo na viagem principalmente devido à pirataria nos mares da Madeira.
Esteve no cargo durante 22 anos e foi um grande reformador do clero madeirense, restaurando igrejas arruinadas, interessando-se pela administração das paróquias, criou ouvidorias e revitalizou as visitações. Elevou a igreja de S. Pedro (Funchal) a colegiada, mandou fazer o Seminário da Diocese, o Paço Episcopal do Funchal (antigo) e a capela anexa de São Luís, onde depois foi sepultado.
Morreu a 26 de Novembro de 1608.
Os seus restos mortais foram exumados e trasladados, aquando da profanação da Capela de São Luís em 1906, para a Sé Catedral, onde foram depositados junto às portas do guarda-vento e recobertos com a lápide de mármore lavrado que ornamentava a sua sepultura primitiva.
Fontes: Wikipédia e Saudades da Terra (Gaspar Frutuoso)
sábado, 14 de maio de 2011
JOSÉ DO CANTO: um homem a conhecer
 José do Canto nasceu a 20 de Dezembro de 1820, em Ponta Delgada. Era filho do morgado José Caetano Dias do Canto Medeiros (1786-1858) e de sua primeira mulher, Margarida Isabel Botelho (1793-1827).
José do Canto nasceu a 20 de Dezembro de 1820, em Ponta Delgada. Era filho do morgado José Caetano Dias do Canto Medeiros (1786-1858) e de sua primeira mulher, Margarida Isabel Botelho (1793-1827).
 Casou a 17 de Agosto de 1842, com Maria Guilhermina Taveira de Neiva Frias Brum da Silveira, senhora da poderosa casa dos Bruns, tornando-se, assim, um dos maiores proprietários açorianos. Deste casamento nasceram 5 filhos, sendo dois do sexo masculino.
Casou a 17 de Agosto de 1842, com Maria Guilhermina Taveira de Neiva Frias Brum da Silveira, senhora da poderosa casa dos Bruns, tornando-se, assim, um dos maiores proprietários açorianos. Deste casamento nasceram 5 filhos, sendo dois do sexo masculino.
 Tendo tido uma educação esmerada, era um homem culto, amante de Camões e de Garrett. Bibliófilo apaixonado, coleccionou toda a obra de Camões e o que sobre ele se tinha escrito, deixando uma biblioteca de milhares de títulos, recheada de preciosidades, que constitui, desde Maio de 1942, um dos fundos integrados na Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada.
Tendo tido uma educação esmerada, era um homem culto, amante de Camões e de Garrett. Bibliófilo apaixonado, coleccionou toda a obra de Camões e o que sobre ele se tinha escrito, deixando uma biblioteca de milhares de títulos, recheada de preciosidades, que constitui, desde Maio de 1942, um dos fundos integrados na Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada.  Se o seu grande amor era a Ilha de S. Miguel, a sua grande preocupação era desenvolvê-la.
“Influenciado pelos iluministas, José do Canto queria reformar a terra onde nascera. Acreditava no progresso, como só nesse período, entre 1850 e 1890, se acreditou. Assinava revistas estrangeiras sobre como reformar a agricultura, lia manuais agrícolas pela noite dentro e sonhava com campos férteis povoados por camponeses felizes. Em 1843 fundou a «Sociedade Promotora da Agricultura Micaelense», a primeira associação do tipo existente em Portugal. Acreditava que a educação era a chave para ultrapassar os problemas que via pelos campos. Introduziu na ilha o método de ensinar a ler preconizado por António Feliciano de Castilho, cuja vinda para São Miguel patrocinou. Entre 1847 e 1850, Canto e Castilho colaboraram intimamente no jornal Agricultor Michaelense.
Se o seu grande amor era a Ilha de S. Miguel, a sua grande preocupação era desenvolvê-la.
“Influenciado pelos iluministas, José do Canto queria reformar a terra onde nascera. Acreditava no progresso, como só nesse período, entre 1850 e 1890, se acreditou. Assinava revistas estrangeiras sobre como reformar a agricultura, lia manuais agrícolas pela noite dentro e sonhava com campos férteis povoados por camponeses felizes. Em 1843 fundou a «Sociedade Promotora da Agricultura Micaelense», a primeira associação do tipo existente em Portugal. Acreditava que a educação era a chave para ultrapassar os problemas que via pelos campos. Introduziu na ilha o método de ensinar a ler preconizado por António Feliciano de Castilho, cuja vinda para São Miguel patrocinou. Entre 1847 e 1850, Canto e Castilho colaboraram intimamente no jornal Agricultor Michaelense.  Morreu a 10 de Junho de 1898, deixando expressa a vontade de um enterro “sem pompa nem ostentação” e repousa, ao lado da esposa, na Capela de Nossa Senhora das Vitórias, junto à Lagoa das Furnas e de um dos seus “gloriosos jardins”.
Morreu a 10 de Junho de 1898, deixando expressa a vontade de um enterro “sem pompa nem ostentação” e repousa, ao lado da esposa, na Capela de Nossa Senhora das Vitórias, junto à Lagoa das Furnas e de um dos seus “gloriosos jardins”. sexta-feira, 6 de maio de 2011
Ilha de Santa Maria

Assim que os primeiros que saíram em terra, ali junto do mar, ao longo daquela ribeira do Capitão, ou desta vez, ou da segunda, fizeram a primeira casa que na ilha se fez, e, depois, pelo tempo adiante fizeram outras pela ribeira acima, e esta foi a primeira povoação da ilha, e por isso escolheu depois ali o Capitão suas terras, que são as melhores da ilha, e dão mais e melhor fruto e trigo, quase como o de Alentejo, quando o ano é temperado e bom.
Andou Gonçalo Velho correndo a costa da banda do Sul, ora no navio, ora na bateira, saindo em terra onde achava lugar para isso, vendo-a coberta de muito e espesso arvoredo de cedros, ginjas, pau branco, faias, louros, urzes e outras plantas, notando as baías e pontas, [ao longo] da ilha, e tomando em vasilhas água de fontes e ribeiras e, da terra, alguns ramos de diversas árvores, que nela havia, para mostrar ao Infante.
Fazendo ali pouca detença, como viu tempo conveniente, se partiu para o Reino, onde, chegado ao lugar donde partira, disse ao Infante como achara a ilha, dizendo o que dela entendera e mostrando-lhe as coisas que levava da terra, com a qual nova o Infante, dando graças a Deus, que lha manifestara, e ficando muito contente, recebeu com bom gasalhado e cortesia a Gonçalo Velho e aos mais que lá em sua companhia mandara, fazendo mercês a todos, segundo a qualidade das pessoas e serviços e ofícios de cada um deles, porque, como os bons servos mostram sua virtude e fidelidade em servir com amor e diligência a seus senhores, assim os príncipes e grandes senhores manifestam sua grandeza e magnificência em fazer mercês a seus obedientes súbditos e galardoar com superabundância de amor e obras os serviços de seus fiéis criados.
Baía de S. Lourenço

Afirmam todos, […] que os primeiros e mais antigos habitadores, que à ilha de Santa Maria vieram, foram […] o primeiro Capitão e descobridor dela, Frei Gonçalo Velho das Pias, comendador de Almourol, o qual, […] descobriu depois esta ilha de São Miguel, por mandado do dito Infante D. Henrique, e foi também Capitão dela; Nuno Velho e Pedro Velho, que passaram depois a esta ilha de São Miguel, ambos irmãos, e sobrinhos do dito Capitão, […] e João Soares de Albergaria, [também] seu sobrinho, […] que também foi Capitão, depois de seu tio, de ambas estas duas ilhas […].
[…] para fazer plantar canas-de-açúcar na ilha, e fazê-lo como na da Madeira, mandou o Infante D. Henrique a ela um mestre António Catalão, o qual as plantou e fez plantar logo no princípio, e deram-se muito boas, que trouxeram a moer nesta ilha de São Miguel, em Vila Franca, e fez-se delas muito bom açúcar; mas, pela pouca curiosidade dos homens, ou por não haver regadias, ou pelo pouco poder, cessou a granjearia delas. Este mestre António veio casado à ilha […] e faleceu de mais de cento e dez anos, deixando dois nobres filhos, Genes Curvelo e Francisco Curvelo, homens de muita maneira, honrados e generosos, de magnífica condição e grande esforço.
O Genes Curvelo trouxe os princípios todos da ilha, como foi provisão para se fazer a igreja, e ornamentos e sinos, e as coisas da Câmara, e vivia no cabo da ilha, da banda de Leste, onde se chama Santo Espírito; o qual houve cinco filhos e cinco filhas, com os quais vinha à Vila, à missa, todos a cavalo, com muita prosperidade; sua mulher, chamada Maria de Lordelo, era muito honrada, natural da ilha da Madeira. O Francisco Curvelo casou na ilha com Guiomar Gardeza, mulher nobre, de que houve nobres filhos e filhas. E, assim, de mestre António procedeu a geração dos Curvelos, que é a maior parte da terra. […]
Dizem também alguns que Pedro Álvares foi dos primeiros habitadores da dita ilha de Santa Maria e foi lugar-tenente do Capitão, e um seu filho, chamado João Pires, foi o primeiro homem que nela nasceu, e logo depois dele um Álvaro da Fonte. Mas, primeiro que estes ambos, a primeira pessoa que nasceu na dita ilha de Santa Maria foi uma Margarida Afonso, filha de Afonso Lourenço, do Paúl, que foi mulher de Diogo Fernandes Lutador, que depois morou na freguesia de Nossa Senhora da Luz do lugar dos Fenais, termo da Ponta Delgada, desta ilha de São Miguel.
Gaspar Frutuoso, Saudades da Terra [Livro III](1) Aceita-se, hoje, que teria sido descoberta em 1427 por Diogo de Silves.














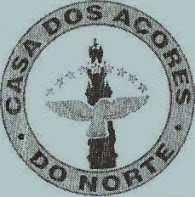





































































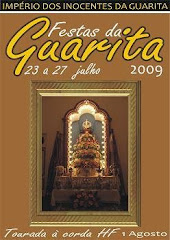








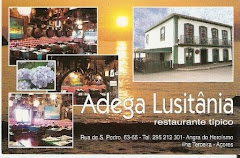









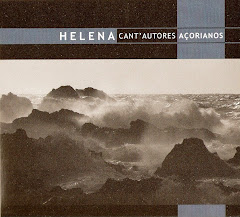
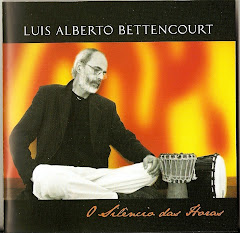










.jpg)



