
Velha Professora
A velha Professora uma vez mais envolveu num olhar magoado o prato de amêndoas sobre o naperon estendido na taça da mesinha oval, em frente ao divã e à poltrona de vimes do canto, deu alguns passos trôpegos, hesitantes, sentindo no corpo franzino o gelo húmido da tarde, e ficou de pé, os cotovelos apoiados no peitoril, por dentro da janela fechada.
O calendário marcava já o começo da Primavera, o tempo, porém, continuava de Inverno rigoroso, áspero, agressivo, frio, muito frio – tão rigoroso, tão áspero, tão agressivo, tão frio que ainda as parreiras se estendiam pelo burgalhau das vinhas, negras como braços de cadáveres velhos de dedos retorcidos e pele encarquilhada, e as flores, que, num dia, apareceram brancas e perfumadas – estrelas pequeninas suspensas entre a folhagem verde do incenseiro de ao pé do muro do quintal – logo na manhã seguinte eram apenas migalhas de sonho que o vendaval nocturno destroçara e derramara pelo chão. Também a figueira plantada rente ao maroiço, uma tarde com folhinhas tenras rebentando nas pontas, logo ficara novamente com os galhos nus, cinzentos, lívidos, como certamente o foram outrora os da figueira em que se enforcou Judas.
A velha Professora aconchegava melhor o xaile de merino castanho ao pescoço magro e aos ombros estreitos, olhava a horta onde as batatas semeadas nem chegaram a abrolhar, as parreiras tristemente ressequidas, a figueira nua, o incenseiro depenado, ao longe, no fundo da paisagem, recortava-se, triangular, no céu esgazeado, a descomunal mancha branca da montanha, com a neve a escorrer-lhe pelos flancos, a alcançar as pastagens, a babujar as casas e as terras lavradias mais do alto. O mar, não o podia ver daquela janela, mas ouvia-lhe os rugidos e os lamentos das vagas, que galgavam, na costa próxima, as penedias bravas.
O sentimento de desolação que desabava sobre a Ilha, assim triste, assim parda, quando devia já revestir-se das galas faustosas das verduras novas, da policromia das flores, da sinfonia festiva dos canários e tentilhões a saltitar pelos ramos das faieiras, pelos cocurutos dos maroiços, pelos festos das paredes, doía-lhe na pele, na carne, no sangue, nos ossos, como na alma lhe doía a tortura da vida.
O Inverno, não havia que duvidar, assentara, naquele ano, arraiais nos penhascos da Ilha e para permanecer muito mais que o desejado, se era que havia alguém que o desejasse – ela, a velha Professora, tinha-lhe horror, ali metida, sem ninguém, solteira como sempre fora, entre as quatro paredes daquela casa que herdara dos antepassados.
Dantes, fizera da escola o seu lar e das alunas a sua família, principalmente depois que lhe morreram, primeiro o pai, a seguir a mãe, e os sobrinhos, que tomara à sua conta e educara pelo desaparecimento do irmão num desastre de baleia no Canal e falecimento prematura da cunhada levada por um cancro, se haviam, feitos homens, ido a tratar da vida nas lonjuras do mundo. Todavia, embora já só, mal dava pelo Inverno, mal sentia o vazio e a solidão à sua volta – lá estava a escola, lá estavam as alunas, faziam-lhe esquecer todo o Inverno, preenchiam-lhe todos os vazios, povoavam-lhe todas as solidões. Tudo, porém, se tornou diferente no dia em que, vencido o limite da idade legal para o exercício de qualquer função pública, a escorraçaram, brutalmente, como quem dá um pontapé num cão inútil, da escola e a apartaram das trinta e tantas crianças a quem ensinava a Instrução Primária, filhas e netas das antigas discípulas que, na extensa caminhada de cinquenta anos bem medidos e bem contados, fora, em cada ano que passara, ensinando, educando e levando, em Julho, à vila, ao acto solene do exame da quarta classe com emoção igual à da mãe que acompanha a sua menina ao altar para a cerimónia do casamento, mesmo depois que uma Lei da Ditadura fascista tornara obrigatório o ensino apenas até à terceira classe, Lei essa que para ela era como se não existisse, não passava de um absurdo consciente e de má fé, “acabaram com a quinta classe, agora tornam a quarta facultativa, mais cedo ou mais tarde com a quarta acabam igualmente, querem mas é fazer deste País o paraíso dos analfabetos para, com a ignorância do povo, melhor e à vontade ao povo os ricos explorarem”, dizia e rematava, “mas, enquanto isso não acontecer, aluna minha só com o seu exame da quarta classe deixarei ir para casa”.
Assim pensava, assim procedia, passava o tempo sem se aperceber de que o tempo passava, mas, obrigada (com a mais rude e grosseira brutalidade) a abandonar a escola, a apartar-se das suas alunas, tudo se tornara diferente, terrivelmente diferente, e ela vira-se como um barco destroçado, sem leme, sem bússola, sem governo, sem rumo, à deriva sobre as incertezas de um mar desconhecido.
Na torre da igreja, à ilharga do pequeno largo do centro da freguesia, aberto para a amplidão dos horizontes do oceano, o sino derramava, sobre a terra e as águas salgadas, as pessoas e as coisas, o bronze austero e amargo das cinco badaladas das trindades, enquanto uma nuvem, negra por cima da brancura da neve, crescia, arredondada, inchava, acabava por cobrir a montanha, alastrava pelo céu.
Mais encolhida, mais arrepiada, mais enregelada, a velha Professora afastou-se da janela, sentou-se na poltrona de vimes no canto, ajeitou o coxim por baixo das nádegas descarnadas, a almofada por trás das costas mirradas, uma vez mais aconchegou melhor o xaile de merino castanho no pescoço magro, engelhado, e nos ombros estreitos descaídos. Na sua frente, sobre o naperon estendido na taça da mesinha oval, o prato com amêndoas… à espera…
O calendário marcara o início da Primavera – e não tardaria a noite a trespassar os vidros da janela fechada, a noite tenebrosa de Inverno, que a amedrontava, que lhe enchia a casa e a alma de terrores… Começavam as primeiras sombras a insinuar-se, silenciosas e escorregadias como fantasmas, no quartinho em que se encontrava, a envolver as fotografias doutros tempos, dos sobrinhos miúdos, da mãe ainda nova, do pai ainda jovem, do irmão, valente baleeiro, que sucumbira levado numa linha [1] e afogado nas ondas, das festas escolares que promovera, de grupos de alunas que tivera… pedaços inertes da vida que passara…
[…]
Dias de Melo, Inverno sem Primavera
______________________________
[1] Linha: aqui, cabo com uns 600 metros de comprimento por cerca de 1 centímetro de diâmetro que, arrumado em duas selhas e amarrado ao cabo do arpão, liga, depois de arpoada, a baleia à canoa.
*************************************************************
Dias de Melo nascido na freguesia da Calheta de Nesquim, ilha do Pico, em 8 de Abril de 1925, morreu hoje, 24 de Setembro de 2008, em Ponta Delgada.
Os escritores que amamos viverão dentro de nós. PARA SEMPRE!






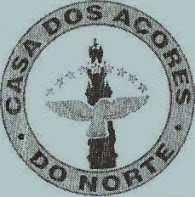





































































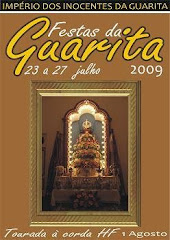








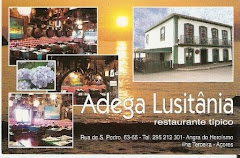









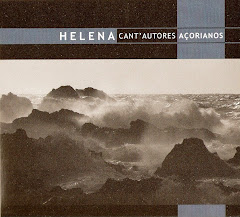
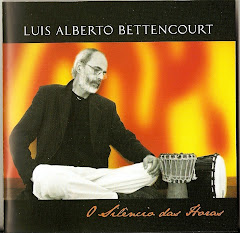










.jpg)




4 comentários:
Olá querida
Essa é a maior verdade, nossos escritores nunca morreram,permaneceram em seus livros,e no coração e no pensamento de cada leitor que conseguiu cativar.
Uma linda homenagem,salatando de um belíssimo coração.
Beijo esse coração.
Conheci Dias de Melo estava eu na Escola Industrial e Comercial de Ponta Delgada, acabadinho de me libertar dos calções curtos da Primária. Era, se não erro, professor de Português, sem grande sucesso; homem pausado, no andar e nas falas, pendurado no seu cachimbo - anos depois assinaria crónicas num jornal micaelense, sob o título de "Fumo do meu cachimbo - e com um sotaque "picaroto" fechado, nada o ajudava enquanto comunicador.
Perdi-o de vista depois desse tempo de escola, para só nos cruzarmos, de novo, logo a seguir ao 25 de Abril, no MDP-CDE, porto de abrigo enquanto não surgiram os Partidos, para os que acreditavam que, com a Liberdade, tudo viria..não imaginando, por um momento sequer,as desilusões (e tropelias)que o futuro nos traria.
Entretanto, li "Pedras Negras", "Mar Rubro" e "Mar pela proa", a trilogia por onde espalhou o seu amor pela ilha-montanha, pelas suas gentes e pelo mar - mar que ele conhecia bem, porque também lá andou atrás da baleia. São livros essenciais para conhecer a vida dos que são (opinião minha, vale o que vale) os melhores senhores do oceano, no Atlântico Norte: os "picarotos", lavradores do mar que, trabalhando a terra,lutando pela vida em chão nem sempre quieto, tudo largavam quando o som do foguete os chamava para arriar as canoas e irem de abalada, atrás da baleia, até onde fosse preciso.
Guardo do Dias de Melo, em contraste com a sua tranquila forma de estar, a vivacidade e brilho dos seus olhos - era através deles que se expressava e que nos mostrava o que lhe ia na alma. E tenho ideia de que sempre andou pelo lado certo da vida.
Os Açores, depois de Emanuel Félix, perdem outro nome de referência, nas suas Letras.
João Coelho
A morte de um escritor constrange-nos sempre,pela certeza que temos de que se perde uma das pérolas de sensibilidade que poderiam salvar o mundo.
O texto é lindo e as memórias do João são sempre preciosas.
Beijinhos.
Amigos,
Muito obrigada pelas vossas palavras!
E, afinal, também a vossa homenagem a Dias de Melo.
Enviar um comentário